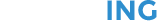Reflexões sobre a Lei Anticorrupção
Na primeira entrevista coletiva que concedeu à imprensa como futuro Ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo Bolsonaro, Sérgio Moro informou que apresentará ao Congresso Nacional proposta de reforma da legislação de combate à corrupção.
Supõe-se que, de seu pacote de proposições, constará uma revisão da Lei Anticorrupção, que alguns designam Lei da Probidade Empresarial ou Lei da Empresa Limpa.
Trata-se da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências.
Dita lei entrou em vigor sem o devido debate prévio, tendo sido entregue à sociedade como resposta política de emergência a uma severa crise vivenciada pelo Governo Dilma Rousseff, circunstância que pode estar na raiz das impropriedades existentes em seu texto.
Explica-se. A Lei Anticorrupção é originária do Projeto de Lei nº 6.826, de 2010, apresentado à Câmara dos Deputados no Governo Lula, no âmbito de compromissos assumidos pelo Brasil com organismos internacionais como a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, no sentido de instituir no país leis antissuborno e anticorrupção.
Trafegava naquela Casa Legislativa sem pressa até que, impulsionado pelos protestos de 2013 contra o Mensalão, com sérios episódios de violência atribuídos ao movimento Black Bloc, o Projeto de Lei passou a tramitar em regime de urgência, com sua rápida aprovação na Câmara dos Deputados em abril daquele ano e no Senado, como PLC 39, três meses depois.
Na mesma época, paralelamente ao da Lei Anticorrupção, outro projeto de lei transitou no Congresso Nacional, convertendo-se na Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013, qual seja: a Lei da Delação Premiada.
Por certo, as duas leis vieram para transformar o sistema brasileiro de combate ao crime organizado e à corrupção.
De um lado, a Lei Anticorrupção deu novo tratamento aos ilícitos contra a administração pública praticados no interesse de pessoas jurídicas, com implicações para estas no campo do direito civil e do direito administrativo.
De outro, a Lei da Delação Premiada cuidou das pessoas físicas, na esfera do direito penal, com foco na repressão ao crime organizado, daí alcançando a corrupção em contratações com a administração pública.
Essas duas leis possuem ligações estreitas. Por exemplo: se decide recorrer às benesses da delação premiada, o funcionário de uma empresa necessita, entre outras medidas, admitir sua prática delituosa.
A partir desse momento, sua empregadora estará, automaticamente, enquadrada na Lei Anticorrupção, tenha ou não agido com culpa na escolha ou na orientação do autor do ilícito, em vista da sujeição da empresa ao regime da responsabilidade objetiva.
O fato é que ao Mensalão seguiu-se o Petrolão, atingindo diversas pessoas jurídicas e evidenciando contradições e conflitos que revelaram que, no tocante à Lei Anticorrupção, muitos de seus aspectos necessitam de aprimoramentos.
A título ilustrativo, os seguintes temas demandam análise detida, como medida preparatória de uma possível proposta oportuna de reforma legislativa:
(a) o sistema obscuro de configuração da responsabilidade objetiva das empresas;
(b) o inconveniente da responsabilidade solidária entre empresas de um mesmo grupo econômico, por ilícito praticado em proveito de apenas uma delas; e
(c) a insegurança inerente aos acordos de leniência.
Veja-se, de início, a questão da responsabilidade objetiva.
Estabelece o art. 2º da Lei que “as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não”.
Adiante, o § 1º do art. 3º dispõe que “a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput”, quais sejam, “seus dirigentes ou administradores”, assim como “qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito”.
Porém, segundo o art. 5º subsequente, os atos lesivos à administração pública, “para os efeitos desta lei”, têm, todos, configuração que depende de atuação dolosa de um indivíduo, estando assim “definidos” na Lei:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; [e assim por diante].
Não por outro motivo, o § 2º do art. 3º da Lei esclarece que “os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade”.
Daí sobressai a indagação de ordem lógica: como pode uma pessoa jurídica responder objetivamente pelo pagamento de indenização ou multa, sem que se tenha comprovado a prática, pela pessoa física, do ato ilícito que atrai a incidência da Lei?
Ainda que se admita que, mesmo com a indefinição do agente do ilícito, a ocorrência da infração possa estar comprovada, a configuração da responsabilidade objetiva da empresa nessa hipótese precisaria ser reavaliada, demandando, se for o caso, uma disciplina mais clara que a atual.
Passemos à responsabilidade solidária entre empresas de um mesmo grupo, que a Lei Anticorrupção assim regula:
Art. 4º (...)
§ 2º - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.
De plano, cabe criticar a inclusão da sociedade coligada no rol de responsáveis solidárias pela prática dos atos previstos na Lei Anticorrupção.
A propósito, o art. 46 da Lei nº 11.941, de 2009, estabelece o seguinte:
Art. 46. O conceito de sociedade coligada previsto no art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação dada por esta Lei, somente será utilizado para os propósitos previstos naquela Lei.
Parágrafo único. Para os propósitos previstos em leis especiais, considera-se coligada a sociedade referida no art. 1.099 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.
Portanto, na forma do artigo 1.099 do Código Civil, será considerada coligada, para os efeitos da Lei Anticorrupção, “a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais, do capital da outra, sem controlá-la”.
Todavia, a adoção desse critério pode produzir uma situação injusta, com a responsabilização objetiva de uma sociedade, por ato de preposto ou administrador de outra, na qual figure como mera investidora, com participação minoritária, sem poder de controle.
Observe-se que, para os efeitos da Lei nº 6.404, de 1976, que disciplina as sociedades anônimas, a Lei 11.941, de 2009, deu contornos distintos ao conceito de coligada, como segue:
Art. 243. (...)
§ 1º - São coligadas as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. (...)
§ 4º - Considera-se que há influência significativa quando a investidora detém ou exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la.
§ 5º - É presumida influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.
Se fosse esse o conceito adotado para a Lei Anticorrupção, estaria ao menos mitigada a situação de injustiça acima apontada. Afinal, o pressuposto da solidariedade residiria na “significativa influência” de uma sociedade sobre outra.
A realidade, porém, é que a responsabilidade solidária entre empresas de um mesmo grupo, de modo geral, pode mostrar-se inadequada para o alcance de certos objetivos da Lei. E isso vale, não só no caso de coligadas, mas também entre empresas controladoras, controladas ou consorciadas.
Na celebração de acordo de leniência, por exemplo, o Poder Público renuncia em parte sua pretensão punitiva, em troca de informações sobre outros envolvidos com o ilícito. Nessa ocasião, é comum que um dos itens do ajuste consista na não declaração de inidoneidade da empresa, de modo que esta possa continuar a contratar com a administração pública.
Naturalmente, é premissa desse tipo de cláusula a ideia de que o prosseguimento das atividades da empresa constitui medida que se alinha com o interesse público.
Não raro, porém, os acordos prefixam quantias elevadíssimas a serem pagas pela empresa envolvida com o ilícito, a qual, para desincumbir-se de suas obrigações, precisa passar por processo de reorganização societária, que pode pressupor a venda de participações em outras empresas do grupo econômico.
Nesse caso, a responsabilidade solidária instituída na Lei pode dificultar o processo de reorganização, embaraçando as diligências de coleta de recursos para cumprimento do próprio acordo de leniência, parecendo recomendável uma reavaliação da Lei nesse particular.
Uma solução a considerar seria a inserção de regra admitindo o afastamento da solidariedade em acordo de leniência, com a regulação do regime aplicável em caso de rescisão do acordo por inadimplemento, relativamente ao terceiro de boa fé que adquira a pertinente participação societária.
Trate-se, agora, especificamente, das dificuldades inerentes ao acordo de leniência.
Segundo o art. 30 da Lei Anticorrupção, a aplicação das sanções nela previstas não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de ato de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), nem dos ilícitos pertinentes a licitações e contratos da administração pública (Lei nº 8.666, de 1993, e outras normas que versem sobre o tema).
Ocorre que, com frequência, os atos lesivos enumerados no art. 5º da Lei Anticorrupção também configuram ilícitos, tanto da Lei de Improbidade Administrativa, como da Lei de Licitações e Contratos.
Aliás, um mesmo ato ilícito pode atrair a incidência, não só dessas duas outras leis, mas também da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.4443, de 1992) e da Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529, de 2011).
Isso significa afirmar que determinada situação pode subsumir-se à autoridade da CGU (Lei Anticorrupção), do Ministério Público Federal (Lei da Improbidade Administrativa), do TCU (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) e do CADE (Lei de Defesa da Concorrência).
Escrevi sobre o assunto em artigo intitulado "O Combate mal ajambrado à corrupção" (in Revista da Escola da Magistratura Regional Federal - TRF 2ª Região, vol. 27, p. 151), o qual se acha listado na Bibliografia Selecionada de Improbidade Administrativa e Corrupção pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Na ocasião, ponderei que um caminho a seguir, para solucionar o imbróglio decorrente da multiplicidade de autoridades legitimadas a lidar com os atos descritos na Lei Anticorrupção, seria buscar inspiração na Medida Provisória 703, de 2015, que não mereceu aprovação do Congresso, mas delimitava interessantes parâmetros para o aperfeiçoamento legislativo da matéria.
Entre outras, cabe aqui destacar a proposta de modificação do citado artigo 30, que passaria a ter a seguinte redação introdutória (o trecho sublinhado seria um acréscimo ao texto original): “Art. 30 – Ressalvada a hipótese de acordo de leniência que as inclua, a aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: (...)”, seguindo-se incisos com a indicação das leis acima mencionadas, incluindo a do TCU, que não constou da Medida Provisória.
No rigor, todavia, o aperfeiçoamento do regime brasileiro de combate à corrupção exige reflexões muito profundas. A harmonização das diferentes áreas do direito envolvidas com a matéria é prova do tamanho do desafio.
Penal, civil, administrativo, processual são só alguns dos ramos do direito que devem regular os efeitos de um mesmo ilícito, afetando pessoas físicas e jurídicas de direito privado que protagonizam o processo, assim como os entes públicos lesados, isto é, conforme o caso, a União, os estados-membros, os municípios e as autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as entidades fundacionais das três esferas federativas.
De fato, os tentáculos da corrupção por vezes atingem, com um só golpe, os três níveis da federação, como seria o caso de uma obra contratada por certo estado, financiada por um banco público federal e dotada de incentivos tributários municipais.
Como fazer, nesse caso, para que um acordo de leniência firmado, por exemplo, pela CGU seja oponível, não apenas ao MPF, ao TCU e ao CADE, mas também aos estados e municípios, ao MP estadual, ao TCE, ao TCM e às entidades da administração indireta das diversas instâncias, quando as circunstâncias assim o recomendarem?
Seria necessária uma emenda constitucional prevendo a edição de lei complementar para instituir normas de cunho nacional oponíveis a todos os membros da administração pública direta e indireta da União, dos estados e municípios? Seria essa lei complementar o veículo adequado para a definição da superautoridade credenciada a firmar o acordo a todos oponível? Ou, para essas questões, bastaria a reforma da Lei Anticorrupção?
Outra indagação: o acordo de leniência deveria ter sua assinatura antecedida da liquidação dos danos sofridos pelo ente público vitimado pelo ilícito? Não é o que diz a Lei Anticorrupção, notando-se que a reparação integral dos danos continua a depender de reivindicação judicial, mesmo quando firmados acordos com as diferentes autoridades credenciadas.
Enfim, são muitas as reflexões que precisam ser realizadas. Entre as que não foram acima sugeridas, poderíamos aqui deixar uma última: por que a legislação só admite acordo com a primeira empresa que procura a autoridade capaz de assinar a leniência?
Não teria a própria autoridade discernimento para optar entre fazer com um, dois ou três dos envolvidos o acordo que, obrigatoriamente, terá sempre como premissa insuperável a prevalência do interesse público?
Ter alguma vantagem exclusiva para o primeiro que se voluntaria pode até ser interessante, mas impedir outros de firmarem o acordo, quando portadores de informações novas sobre um mesmo ilícito, parece um equívoco. Salvo melhor juízo.
Com essas ponderações, concluo como no antigo anterior, acima citado: urge a reformulação do sistema brasileiro de combate à corrupção. Que seja agora!
***
- Share: